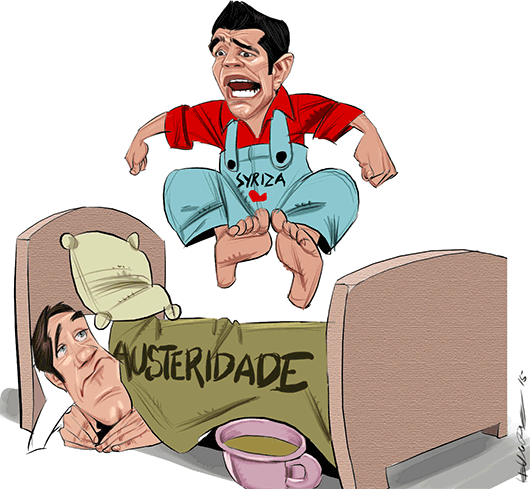«Os Amantes Aprovados», por Agustina Bessa-Luís.
«Os Amantes Aprovados»
Conto de Agustina Bessa-Luís
402- «OS AMANTES APROVADOS»
É uma história simples. No ano de mil novecentos e trinta e
tal, vivia na vilazinha de ..., no litoral, uma viúva respeitável, gorda, de
olhar brando e bandós a picarem de cinzento. Tinha tido onze filhos, dos quais
nove sobreviviam, e toda a aventura da sua vida fora a de, como mulher dum
magistrado pobre, ter percorrido o país no decurso duma carreira anónima e sem
fé. Triste, talvez não. O marido fora um tipo folgazão, sociável em extremo e
que fizera grandes amigos, dos quais muitos também sobreviviam. A sua morte,
acontecida em pleno vigor físico e quando esperava a promoção a juiz de segunda
classe, provocara uma crispação de pânico nos nervos dos colegas e de toda uma
pandilha fervorosa dos vícios de província, que são a má-língua, a política e o
interesse - essas fístulas crónicas dos homens de quarenta. Os órfãos, de
princípio socorridos com uma generosidade exaltada demais para permanecer fiel,
foram aos poucos deixados sob a mão de Deus Padre, para que se criassem.
Sabia-se que a mãe era senhora séria e de bons princípios, e isto sossegava -
vamos saber porquê! - as consciências. Tinha ela na terra uma casa, pouco mais
que um sobrado de pescadores, e para lá se arrumou com as crianças. Duas,
protegidas por padrinhos, teriam estudos pagos e donativos de vestuário; os
outros cresceram um pouco à sorte, no hábito dessa tragédia ensossa, pasmada,
fria, da burguesia pelintra. Podia-se dizer que existiram entre a escola e o
emprego na burocracia, sem conhecerem a cor do dinheiro. Entalados numa
engrenagem de dívidas, promessas, esmolas, de caridade sopesada até à última
gota na balança dos que em cada dádiva ou tutela parecem endossar a batata
podre dum conceito inútil, da moralidade mais rapada e sem brilho, adquiriram
todos uma sobreposição de personalidade que os fazia muito idênticos. Assim,
todos sabiam dissimular e nunca manifestavam a tempo qualquer sentimento;
reagiam por aprendizagem, não por instinto, e na sua alma tudo estava pregado e
postiço como a lua no teatro do próprio Shakespeare.
Com o tempo e a colocação do mais velho como prefeito dum
colégio, mudaram-se para uma sobreloja, deixando o bairro excêntrico em cujas
valetas os detritos de peixe atraíam grandes moscas verdes. Viviam pior que
nunca, mas tinham conseguido o que se chama "ganhar pé". Possuíam um
relativo crédito e, comprovada a sua penúria, os seus antecedentes duma honesta
monotonia e o facto abonatório de que tinham vivido bem, a sociedade
apaziguara-se um tanto e concedera-lhes certos direitos. Por exemplo, as
raparigas traziam golas de velha pele sarnenta, sem que o mundo se risse,
porque, nelas, os atributos da classe, o luxo, eram por assim dizer uma
aquisição histórica. Admitiam-nas na intimidade superficial das pessoas finas,
homenageando-as com a confiança de lhes pedirem favores como os de passarem
bilhetes de rifa ou recortarem florinhas de papel para o Dia do Capacete.
Enfim, podia-se afirmar que tudo corria bem, se algo de muito estranho e de
imprevisto não abalasse a comovida paz dos benfeitores que são a multidão em geral
quando se sente despreocupada. Constou que a viúva tinha um amante. Tínhamos
dito que era ela mulher gorda, grisalha, de olhar brando, mas não seria bem
assim. Era de facto um tanto pesada, com um andar cambaleante de quem sempre
calçou chinelos de pasta ou de corda ou de seleiro; não vestia mais do que
batas de algodão preto e parecia bastante mal, mesmo aos domingos, sobretudo
aos domingos, quando, na missa das nove, se ajoelhava na sua almofadinha de
setineta vermelha, ao lado do "altar das Dores". Tinha um rosto
inexpressivo do muito que a fadiga se sobrepusera às emoções, e não parecia
gostar de rir nem de chorar, nem sequer de observar os outros nessas ocupações.
De resto, possuía ainda belos olhos, e a sua frieza de maneiras dava-lhe uma
graça um tanto hostil que infundia ternura, depois de ter provocado receio. Era
frequente vê-la atravessar a ruazinha de velho macadame, para vir arrastar pelo
braço um ou outro filho que se filiava na trupe de garotio para, no átrio do
cinema, esmolarem a quantia bastante à entrada. Fugiam-lhe para, no poleiro da
geral que era como uma assembleia de jurados apinhados em degraus rente às
coxias, uivairem ameaças contra "o cínico" daqueles filmes do Tim Mac
Coy de belos dentes que se rolava num fosso da pradaria em chamas. Ai a
linguagem desses ladrões de gado, desses sheriffs, dessas "cavadoras de
oiro" que sugeriam fome e água de lavar pratos! "Labora num grande
erro" - diziam, explicando a intriga e a traição, enquanto, com um rumor
de vento infiltrado por fendas de pedreiras, ardia um rastilho de dinamite. Os
rapazes precipitavam-se, no intervalo, até à rua, engalfinhavam-se possessos de
coragem, imitando tiros; e iam, na lojeca próxima, comprar um pão encortiçado,
de domingo, com talhadas de marmelada, ou cartuchos de paciências ou pastilhas
Naval que chupavam laboriosamente, mostrando-as na língua uns aos outros, para
suscitar invejas.
- Raça! - exclamava a proprietária, que vinha, por condescendência, ajudar na
loja, porque a frequência era aos magotes, e ondas de garotos embatiam contra
os mostradores onde melavam os "caramilos" junto das onças de tabaco.
Era uma mulher oxigenada, vistosa, cheia de ambições mal encabadas no seu
ofício de mestra de meninos. Detestava as crianças, as suas roupetas com cheiro
de peixe e de surro, as suas chancas tachadas, as suas sacolas de serrapilheira
com flores pintadas e que a chuva esborratava; aplicava nelas o ódio pelo mundo
de chateza e de frio que conhecera desde a infância, quando, deportada do seu
nabal onde o pai sorvia cotos de cigarro sentado nos montículos de pilado, se
fizera letrada. Casara ali na vila com um tipo mesquinho que usava manguitos de
cotim e pesava quilos de arroz com a proficiência dum Shylock. A filha, bonita
como ela, criara-a para outra classe, outro meio, outra vida. Quantas lágrimas
raivosas, esses vestidos de folhos, essas sombrinhas japonesas! Quantos favores
equívocos, nauseados, em que acumulava tédio e impotência, para que ambas, na
Assembleia, sorrissem um pouco duramente, como quem pressente ter-se enganado
na porta e no lugar, e espera a todo o momento uma advertência, uma
rectificação!
- Raça! - dizia, quando estendia sobre o balcão, procurando não tocar as
mãozinhas onde o ranho seco escamava, os confeitos ou os pães varridos de
farinha, muito lambidos, cor de cinza. E, em particular, a sua aversão atingia
os filhos da viúva. Desprezava-os porque os achava pobres, raquíticos,
enfadonhos, sérios; porque tinham hábitos finos, viviam disciplinados como
formigas, usavam com naturalidade os seus trapos polidos com benzina, e porque
as crianças abastadas os tratavam com deferência. Alguma vez a sua Loló, magra
e frenética criatura de olhos verdes, brincara nos jardins dos palacetes, usara
as trotinetes dos pequenos burgueses, fora conduzida a casa pelos seus criados?
Loló percorria as ruas perseguida por uma turba de catraios de fralda ao vento
que se dispersavam quando ela parava para os reconhecer - o que não acontecia
nunca. Mesmo assim, denunciava-os a eito, a mãe se incumbia de distribuir reguadas
nos nós dos dedos, ferindo, esfolando, com um olhar mau, nublado, e que fazia
gritar os menos estóicos antes que se aproximasse deles. Ah, aquela viúva fora
por muito tempo um espinho enterrado no centro do peito, fora um pouco como uma
sombra projectada sobre um écran onde a paisagem corre! Admirava-lhe as belas
maneiras, o ar sóbrio, sem sorrisos, porém sem amargura; invejava-lhe a
tranquilidade com que parecia existir entre os filhos, que cresciam feiotes e
pelados como ratos dos bueiros. De súbito, apareciam todos grandes, as
raparigas com a sua beauté du diable, os seus vestidos inesperadamente à moda,
tentando destinos, vivendo; os rapazes tinham agora boas relações, faziam
carreira, modestamente, sem importunar, seguros. Também a sua Loló, delgada e
cheia de it, dançava um pouco o charleston e namorava um miliciano. Mas as
outras crianças, sempre as mesmas, com o seu cheiro de marisco na pele, com os
seus narizes lacrados de monco amarelo, com os seus gritos à Tarzan, a sua bola
de trapo, essas não cresciam. Continuava a sacudir-lhes as orelhas com varadas,
enquanto lhes encaixava as medidas de peso ou de lenha. E um sol tão branco
arredondando-se sobre o mar! E o trepidar dos carros no Largo de S. Tiago, na
Avenida, na Praça! Meu Deus, meu Deus! Havia uma lampadazinha sobre a mesa onde
corrigia exercícios, à noite, e a luz amarela escorria nimbando a sua cabeça
oxigenada. Os frequentadores do cinema viam-na, e, na impressão imediata dos
cartazes onde se contorciam mulheres como chamas, comentavam: "Parece uma
vamp... a Brigitte Helm... a Marlène..." E ela sentia na pele, à flor da
sua pele branca, empoada e levemente flácida, que falavam dela, e como.
Foi ela a primeira a compreender e a revelar que a viúva
tinha um amante. Era um rapaz de vinte anos, muito estranho, magrinho, e que
leccionava num colégio; chamava-se David, tinha vindo das Ilhas, sem recursos,
para estudar. Era interno, portanto, e passara a pagar com explicações aos
primeiros ciclos as suas propinas. A viúva conhecia-o como colega dos filhos
mais velhos, há bastante tempo, vira-os nas mesmas manhãs de Verão saírem
juntos para o banho, com a toalha enrolada presa pelo cinto do maillot. Nos
dias de aniversário, David sempre mandava um postal ilustrado às meninas -
sempre garotas ricas entre flores, em áleas de jardins, e cores muito
brilhantes. Ele era tristonho, quase bronco quando desconfiava de alguém ou
simplesmente não conseguia adaptar-se; mas, familiarizando-se, rasgada a sua
casca de timidez feroz, de orgulho mais feroz ainda, era maravilhoso. Havia
nele uma coragem de sinceridade que nem era maculada pela consciência de
virtude que a razão nisso podia surpreender. Na sua aceitação de tudo o que
acontece, de tudo o que triunfa, de tudo o que perde, de tudo quanto é inútil
ou sem estética, de tudo quanto é belo para vexame da nossa própria alma, havia
paz. Às vezes sorria, quando todos se agrupavam fazendo traduções do latim,
repuxando uma beiça sinistra sobre o queixo. Sorria, com o livro aberto diante
dele, como se seguisse uma imagem deveras cheia de interesse e de humor.
- Em que pensa? - perguntava-lhe a viúva. Ela sorria também.
- É tão tolo viver exactamente assim - dizia David. -
Dividimos o tempo e emparedamo-nos dentro dele. Mas não há tempo, o tempo não
existe, o tempo é apenas memória. Olhe as violetas nessa jarra... murcharam,
mas não têm a recordação da sua frescura, portanto existem num tempo único -
compreende?
- Compreendo. - E ela já não sorriu. O rosto cansado
estremeceu, crispou-se, e voltou a adquirir a sua fria brandura habitual. Sim,
tinha compreendido. Durante muitos dias esgotou-se em imobilizar-se dentro dela
própria, em rastejar em torno da sua alma, para que ela não pressentisse quanto
a vigiava, vendo se dormia ou velava; durante muitos meses viveu metodicamente
entre a sua pequena gente escura, questionadora, mesquinhamente ansiosa e que
se atraiçoava de quarto para quarto, de prato para prato. Julgava-se sossegada
e igual a outrora, surpreendia-se a rir jovialmente, porque tal libertação a
exaltava e lhe dava uma espécie de febril felicidade. Depois, recaía de súbito;
David obcecava-a até ao ódio, queria que ele partisse, inventava planos para o
afastar, para deixar de o receber, para não o ver mais; achava-o sem
importância, voltava a rir-se da sua cegueira, a acusar-se de insensatez, de
malignidade, de vileza. Rezava muito, mas, na sua prece, no mais ardente voto,
brotava-lhe do coração o nome dele, mergulhava numa prostração terna,
exasperada e submissa por fim. Adoecia e renascia da doença como a serpente que
se desprende da própria pele e se esgueira vigorosamente para fora do ninho
bolorento. Assaltavam-na escrúpulos que se traduziam em manifestações de
sacrifício; o seu amor pelos filhos parecia recrudescer, escravizava-se a eles,
contente se dominava a própria impaciência e o juízo desfavorável que o
carácter deles, as suas pegas, a sua nulidade, o seu egoísmo desamparado e
impotente lhe provocavam. Matava-se lidando inutilmente, infeliz quando
percorria a casa e via que todas as coisas estavam correctas nos seus lugares,
que a poeira vogava no ar sem poisar; tudo era tranquilo e mesmo, sob a mesa da
sala, os gatos dormiam indiferentes a travessuras no velho tapete inglês muito
rapado nas bordas como um caminho trilhado de roda dum capinzal. Sentava-se um
momento, com as mãos no regaço, como alguém que espera num banco de estação; a
imobilidade doía-lhe, agitava-a uma saudade de lágrimas que não podia chorar, e
tudo o que até ali vivera lhe parecia importuno na sua memória. Punha-se a
pensar então em David, o sangue pulsava- -lhe devagarinho nas têmporas, ela
sorria como uma rapariga. Pensava nele, encontrando sofrimento e alívio porque
ele lhe aparecia de repente tão distante como alguém já morto, como alguém a
quem, à força de dedicar sentimentos e projectos, nos aproximou da indiferença
e da erosão da alma. A vida como que estancava, ficava-se distraída a olhar
pela janela o céu frio de Primavera que tão bem lhe sugeria toda a vila
desenhada numa luz apática, com sombras que cresciam rapidamente pelos muros,
com campos e noras, flores miniaturais balançando-se imperceptivalmente como
cabecinhas senis; e os areais onde se compunham redes, escurecidos aqui e além
pelos detritos do mar, com recortes de babugem que, devagar, se evaporava. O
céu frio de Primavera sobre a vila! Sobre as gavinhas tenras cheias ainda de
penugem cinzenta; sobre os talos novos de roseira que, partidos, vertiam seiva
doce; sobre os campos, sobre os campos... Frios, dum verde inacabado, com terra
fria, fechada, hostil ainda, por debaixo. Esse arrepio agudíssimo do fim de
tarde de Primavera comunicava-se-lhe. E, trémula, retomando a custo o
movimento, a vontade, voltava a apropriar-se de si mesma.
Quando falaram as vozes, dizendo que David e ela eram amantes, isso apenas se
explicaria pelo pressentimento de catástrofe a que são sensíveis as
colectividades. Viam-se pouco, nunca se tocavam; mas havia decerto neles uma
exaltação de paixão que o próprio silêncio, a própria ausência e aparência de
serem estranhos, confidenciava. Os filhos passaram a abandonar mais a casa, a
tratá-la com uma cerimónia constrangida. Alguns choravam um pouco pela
nostalgia da simbólica mãe; de resto, fora sempre o símbolo de mãe que eles
tinham amado, e não a ela. Não a ela. Outros faziam-se mais viris com essa realidade
que no fundo da alma os vexava; e torturavam-na.
- É verdade? É verdade? - diziam. - Sempre fomos bons
filhos, a pobreza não nos fez corar nunca, bruníamos as nossas roupas ao serão
para te poupar canseira, desprezámos as raparigas para não te abandonarmos.
Destruíste tudo isso. Já não podemos ter confiança, porque tu nos cuspiste na
cara.
- Mãe, mãe! - diziam as moças, com trejeitos duma cólera
ávida, repelente, destruidora, a cólera sem finalidade das mulheres, que é
apenas pretexto duma afirmação, duma quase vingativa expansão do sexo. - É uma
canalhice!...
E o próprio David, que sentenciava com uma voz em que se
entrevia mais o prazer da audácia que a intenção de a poupar a ela:
- Não há acções canalhas, mas almas canalhas. A mesma acção
vivida por almas diferentes não é a mesma acção.
Ela suspirava, levava a mão ao rosto como se fosse defender
uma pancada. Não compreendia; não compreendiam. E, quando David encostava a
cabeça nos seus joelhos, o silêncio denso os envolvia, o silêncio amassado com
todo o vociferar da rua onde brincavam crianças e se descompunham peixeiras,
com todos os soluços de agonia dos que morriam na solidão terrível daqueles a
quem o próprio pecado abandonou, ela encontrava felicidade. Um dia, constou que
se tinham matado. Ela aparecera com duas balas no peito, no soalho do seu
pequeno quarto onde se respirava essa miséria estéril dos que apenas duram,
apenas dormem, apenas sonham, apenas mentem. Castiçais de vidro, sobre a
cómoda, diante de imagens baratas de arraial de peregrinação, tinham velhos
pingos de estearina cobertos de pó. David respirava ainda.
O caso, muito abafado, passou depressa, pois o mundo gosta
de resgatar a sua responsabilidade com o esquecimento. Sim, com o esquecimento
que antecede sempre a redenção. Tudo passou depressa; portanto, poucos anos
depois, a vizinhança só banalmente se referia à viúva, aos filhos que tinham
partido ou porque casavam, ou porque os vitimara uma febre, um desastre, ou
porque a província os devorara como pequenos burocratas. Só quem fielmente se
lembrava de tudo era a loira mestra de meninos, que continuava a corrigir
problemas na sua mesa iluminada pelo candeeirinho que o tempo entortara e cujo
abat-jour ficara sujo e pingão como um saiote de bailarina de guignol. A luz
amarela fazia resplandecer os seus cabelos, e ainda os frequentadores do cinema
olhavam, com um interesse logo extinto, o recorte da sua cabeça na vidraça. Mas
já não faziam comentários.
- Raça! - murmurava a mulher, riscando ferozmente de
vermelho os cadernos cheios de borrões cor de violeta e onde a tripa da tinta
se desenhava. Loló engordara e já não tinha olhos verdes, já não usava
sombrinhas japonesas; já não tinha pretendentes vestidos de flanela branca como
Conrad Nagel, como o Barrymore; casara com não sei quem, desia aos tropeções a
sua escada estreitinha, agarrando-se de lado ao corrimão, com uns velhos
sapatos debruados de pelúcia e que ganhavam pulgas - oh, esses sapatos de lã
que criavam pulgas alimentavam a comunicabilidade calaceira, morosa, feliz, com
mais do que uma vizinha! -, ia escolher papos-secos na padaria, fazendo-lhes
estalar a crosta entre os dedos, espremendo razões de protesto em todas as
coisas que aconteciam.
- Raça! - dizia ela também. A mãe, ainda oxigenada, corajosa
ainda porque se pintava sobre as rugas, sobre as feições desfeitas,
desprendera-se muito dela. Às vezes pensava na viúva, em David, no seu amor que
sentia vivo, penetrado no próprio céu frio de Primavera, fluindo de todas as
coisas, mesmo as mais ingratas e inexpressivas coisas do mundo. Tinham-se amado
- eles. Naquela casa de sobreloja onde habitara a viúva, não podia ver ninguém
correr um estore, abrir uma janela, atirar fora os restos dum cinzento, sem que
julgasse que tudo estava a acontecer ainda. Que, no quarto, que recebia luz
duma clarabóia do corredor, dois seres tão verdadeiros como só podem ser os que
compreendem que a morte participa da vida e a completa, agonizavam, sem
tragédia, sem veemência, porque a tragédia, a veemência, não é dos que cumprem,
mas dos que apenas os imitam. Os cartazes expostos no passeio do cinema, as
mulheres serpentinas de olhar vidrado ou fulgurante, as paixões estereotipadas
dum mundo senil, esgotado, impaciente! E aquela criatura, sem juventude, que
vestia batas de chita, que era talvez um tanto estúpida e sem importância, mas
cuja fealdade, limitação, pobreza, mereciam uma aprovação através do amor!
Assim sentia a mestra de meninos que continuava a distribuir aos domingos
pacotinhos de pastilhas Naval, reclamando o dinheiro certo na palma da mão para
a dispensarem dos trocos. Os garotos apinhavam-se, repeliam-se, esmagavam-se
contra o balcão, ela dizia "raça!", entediada e, apesar de tudo,
lírica, porque não abdicava dos seus cabelos loiros, da sua solenidade, e
porque, enfim, em cada esteta falhado há um lírico que se procura.
Esta é a história simples dos que chamamos os amantes
aprovados. Esquecíamo-nos de dizer que David sobreviveu. Que lhe aconteceu
depois, não sabemos. Ou antes, na última vez que fomos à cidade, encontrámos na
rua um homem que se lhe assemelhava muito; os cabelos eram mais raros e usava
óculos. De resto, caminhava muito depressa e não o pudemos observar muito.
Parecia um desses eruditos pobres que vivem num saguão, dormem sobre uma arca e
eles próprios cozinham um arroz esturrado numa máquina de petróleo. Era bem
ele, com o seu olhar retraído, fino, persistente, mas não podemos jurar. O
mundo está cheio de pessoas que se parecem e todas se continuam, sim, todas se
continuam. De qualquer modo, o David que nós conhecemos há muito... Mas nada
temos já a acrescentar a esta história.
Agustina Bessa-Luís