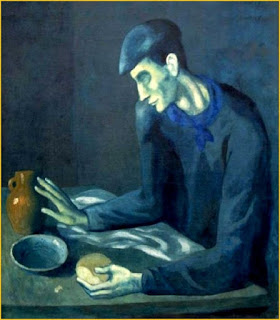«Chuva de Maio», por Alberto Moravia.
«Chuva de Maio»
Ainda Chove/ Edmundo Cruz
626- «CHUVA DE MAIO»
Um dia desses voltarei a Monte Mario, na Taverna dos Caçadores, mas irei com
amigos, aqueles do domingo, que tocam acordeão e, na falta de moças, dançam
entre si. Sozinho, nunca teria coragem.
De noite, às vezes, sonho com as mesas
da taverna, com a chuva quente de maio caindo em cima da gente, as árvores
encrespadas que gotejam sobre as mesas, e entre as árvores, no fundo, as nuvens
brancas passando e, sob as nuvens, o panorama das casas de Roma. E parece que
estou ouvindo a voz do taverneiro, Antonio Tocchi, como a ouvi naquela manhã,
chamando da adega, curiosa: -Dirce, Dirce.
- E parece que o revejo me lançando um olhar de
cumplicidade, antes de descer à adega, com aquele seu passo duro que ressoa nos
degraus.
Fora parar ali por acaso, vindo do interior; e quando me ofereceram
para fazer as vezes de empregado, sem me pagar, pensei:
-Dinheiro não vou ter, mas pelo menos estarei em família.
- Mas que família qual nada, ao invés de família, encontrei
o inferno. O taverneiro era gordo e redondo como uma bola de manteiga, mas de
uma gordura má, ácida. Tinha uma cara larga, cinzenta, com muitas rugas finas
em volta do rosto por causa da gordura e dois olhinhos pequenos, pontiagudos,
iguais aos das cobras: sempre de jaleco e em mangas de camisa, com um boné de
pala cinza enterrado até os olhos.
A filha Dirce, quanto ao carácter, não era melhor que o pai,
dura ela também, maldosa, áspera; porém bonita: daquelas mulheres pequenas e
musculosas, bem feitas, que caminham mexendo os quadris e batendo os pés, como
que dizendo:
-Esta terra é minha.
- Tinha uma cara larga, de olhos negros e cabelos negros,
pálida que parecia uma morta. Apenas a mãe, naquela casa, talvez fosse boa: uma
mulher que devia ter uns quarenta anos e aparentava sessenta, magra, com um nariz de
velha e os cabelos escorridos de velha, mas talvez fosse apenas abobada, pelo
menos era a impressão que dava vê-la de pé diante do fogão com a cara toda
repuxada num riso mudo; se se virava, a gente via que tinha um dente ou dois e só. A
taverna se debruçava com uma tabuleta em arco, vermelho-sangue, com a
inscrição: “Taverna dos Caçadores, proprietário Antonio Tocchi” em
letras amarelas. Depois, por uma alameda, chegava-se às mesas, debaixo das
árvores, diante do panorama de Roma. A casa era rústica, só paredes e quase sem
janelas, coberta de telhas. No verão era a melhor época, vinha gente de manhã
até à meia-noite: famílias com crianças, casais de namorados, grupos de homens,
e sentavam às mesas, bebiam vinho e comiam a comida dos Tocchi, admirando o
panorama. Não tínhamos tempo de respirar: nós homens sempre servindo, as duas mulheres
sempre cozinhando e lavando, e à noite estávamos arrebentados e íamos para a
cama sem sequer nos olharmos. Mas no inverno, ou mesmo no verão, se chovia, começavam
os problemas.
Pai e filha se odiavam, mas odiar é dizer pouco, se matariam. O
pai era autoritário, avarento, estúpido, e por um nadinha já ia avançando com
as mãos, a filha era dura como uma pedra, fechada, sempre ela a dar a última
palavra, arrogante. Odiavam-se, talvez, sobretudo, porque eram do mesmo sangue
e, como se sabe, não há nada como o mesmo sangue para se odiar; mas se odiavam
também por questões de interesse. A filha era ambiciosa: dizia que eles com
aquele panorama de Roma tinham um capital a ser aproveitado e que o deixavam,
ao contrário, entregue aos cachorros. Dizia que o pai deveria construir uma
pista de cimento para dançar, contratar uma orquestra e pendurar balõezinhos
venezianos, e transformar a casa em restaurante moderno e chamá-lo de
Restaurante Panorama. Mas o pai não se atrevia, um pouco porque era avarento e
inimigo das novidades, outro, porque era a filha que estava propondo, e ele
preferia se deixar degolar que dar o braço a torcer à filha. Os choques entre
pai e filha ocorriam sempre à mesa: ela implicava, com maldade, ofendendo,
contra alguma coisa de pessoal, contra o fato de que o pai, comendo, soltava um
arroto, por exemplo, ele respondia com palavrões e xingos; a filha insistia; o
pai dava-lhe um tapa. É preciso dizer que devia sentir algum prazer em
esbofeteá-la, porque fazia uma certa cara, prendendo o lábio inferior com os
dentes e piscando os olhos. Mas para a, filha aquele tapa era como água fresca
numa flor: ficava verde de ódio e de maldade. Então o pai a agarrava pelos
cabelos e lá vinha pancadaria. Caíam pratos e copos, sobrava também para a mãe
que, de boba, ficava no meio, com aquele riso eterno na boca desdentada e eu, o
coração cheio de veneno, saía e ia dar uma volta pela rua que leva a
Camillucia.
Teria ido embora há tempo se não tivesse me apaixonado pela
Dirce.
Não sou do tipo que se apaixona com facilidade, porque sou
positivo e as palavras e os olhares não me encantam.
Porém, quando uma mulher, em lugar de palavras e olhares,
oferece a si mesma, inteirinha, em carne e osso e, ainda por cima, de surpresa,
então o sujeito fica preso como numa armadilha, e quanto mais esforço faz para
se soltar, mais se afundam os dentes da armadilha na carne. Dirce devia ter a
intenção antes mesmo de me conhecer, eu ou outro qualquer para ela era a mesma
coisa, porque, no dia de minha chegada, entrou de noite no meu quarto quando eu
já dormia; e assim, entre o sono e a vigília, que quase eu não entendia se era
sonho ou realidade, me fez passar repentinamente da indiferença à paixão. Não
houve entre nós nem conversas, nem olhares, nem toques de mão, nem todos os
demais subterfúgios a que recorrem os namorados para dizer que se amam; ao
contrário, foi como com uma mulher de rua, das baratas. Só que a Dirce não era
uma mulher de rua e até passava por virtuosa e cheia de orgulho, e essa
diferença foi para mim, justamente, a armadilha em que fiquei preso.
Tenho génio paciente, razoável, mas também sou violento e,
se me espicaçam, o sangue me sobe à cabeça facilmente. Dá para ver pelo físico:
loiro, com o rosto pálido, mas basta um nada para que se torne escarlate. Ora,
Dirce vivia me espicaçando e logo entendi por que: queria que me pusesse contra
seu pai.
Dizia que eu era um patife por tolerar que em minha presença
seu pai a esbofeteasse e depois a agarrasse pelos cabelos e até, como aconteceu
uma vez, a jogasse no chão e lhe desse pontapés. E não digo que não tivesse
razão: éramos amantes e devia defendê-la. Mas eu sabia que seu objectivo era
outro e entre a raiva que me dava aquele insulto de patife e a raiva de saber
que dizia de propósito, eu não dava mais conta.
Depois, um belo dia mudou de conversa: como seria bonito se
pudéssemos nos casar e montar o Restaurante Panorama, eu e ela, sozinhos.
Tornara-se boazinha, gentil, amorosa, doce. Foi essa a melhor época do nosso
amor; mas eu não mais a reconhecia e pensava: aqui tem coisa. E de fato, de
repente, mudou a toada pela terceira vez e disse que, casados ou não casados,
não podíamos esperar nada enquanto existisse o pai, e, resumindo, me disse
abertamente: devíamos matá-lo. Foi como na primeira noite que entrou no meu
quarto, sem preparo nem fingimentos: jogou a proposta ali e foi embora para eu
pensar nela sozinho.
No dia seguinte disse-lhe que estava enganada se achava que
ia ajudá-la numa coisa como aquela e ela me respondeu que nesse caso eu fosse
tratando de ir logo embora porque para ela eu não existia mais. E manteve a
palavra porque desde aquele dia nem sequer me olhava. Quase não nos falávamos e
por tabela comecei a odiar o pai porque achava que a culpa era dele.
Por coincidência, naquela época, o pai aprontava uma todos
os dias e parecia que aprontava de propósito para se fazer odiar. Era maio que
é a boa estação e as pessoas vêm à taverna para tomar vinho e comer fava
fresca; mas, ao contrário, só dava pancada de chuva naquele campo verde e denso, à taverna nem cachorro vinha e ele ficava sempre de mau humor.
Uma manhã, à mesa, ele afastou o prato, dizendo:
-É de propósito que você me dá esta nojeira de sopa
grudenta.
E ela:
-Se fosse de propósito, teria posto veneno nela.
Ele olha para ela e dá-lhe um tapa, que faz seu pente saltar
longe. Estávamos quase no escuro por causa da chuva e o rosto da Dirce naquele
escuro era branco e duro como o mármore, com os cabelos que de um dos lados,
onde se soltara o pente, se desmanchavam bem devagarinho, iguais a serpentes
acordando.
Eu disse ao Tocchi:
-Quer parar com isso de uma vez?
Ele respondeu:
-Não se meta, mas estarrecido porque era a primeira vez que
eu intervinha. Eu tive, então, quase que uma sensação de vaidade, como se
defendesse um ser frágil, que não era bem o caso, e achei que assim eu a
recuperaria e que era o único modo de recuperá-la e disse com força:
-Pare, entendeu, não permito isso.
Estava vermelho feito fogo, com o sangue nos olhos, e a
Dirce por baixo da mesa pegou minha mão e vi que tinha caído, mas então já era
tarde demais. Ele se levantou e disse:
-Está querendo levar o seu também?
Pegou na bochecha, meio de atravessado, e eu agarrei um copo
e atirei todo o vinho na cara dele. No copo e no vinho, pode-se dizer que já
vinha pensando neles há um mês, tanto me agradava o gesto quanto odiava o
Tocchi. E agora ele estava com o vinho na cara e eu tinha feito o gesto e dava
o fora pela escada.
Ouvi ele gritar:
-Eu te mato, viu, vagabundo, mendigo, então, fechei a porta
do meu quarto e fui até a janela olhar a chuva caindo e de raiva peguei uma
Chuva de maio faca que eu tinha na gaveta e a finquei no peitoril com tanta
força que a lâmina partiu.
Chega, estávamos lá em cima, no topo do Monte Mario do mau
agouro, e talvez, se estivesse em Roma, não teria aceito, mas ali tudo se
tornava natural e o que no dia anterior era impossível, no dia seguinte já
estava decidido. Assim, eu e a Dirce combinamos e estabelecemos juntos o modo,
o dia e a hora. Tocchi, de manhã, descia à adega para pegar o vinho do dia,
junto com a Dirce que lhe trazia o garrafão. A adega era subterrânea e para
descer havia uma escadinha montada em cima de um tear e apoiada na parede:
seriam sete degraus. Decidimos que eu os alcançaria e, enquanto Tocchi se
abaixava para espichar o vinho, eu lhe bateria na cabeça com uma barra curta,
de ferro, que servia para atiçar carvões. Em seguida, retiraríamos a escadinha
e diríamos que ele tinha caído e ferido a cabeça. Eu queria e não queria; e de
raiva disse:
-Estou fazendo isso para te mostrar que eu não tenho medo… mas
depois eu vou embora e não volto mais.
E ela:
-Então é melhor que você não faça nada e vá indo depressa…
eu gosto de você e não quero te perder.
- Sabia quando queria, simular a paixão: e assim eu disse
que faria e depois ficaria e abriríamos o restaurante.
No dia marcado Tocchi disse à Dirce que pegasse o garrafão e
dirigiu-se à porta da adega, no fundo da taverna. Chovia, o de sempre, e a
taverna estava quase às escuras. Dirce pegou o garrafão e seguiu o pai; mas,
antes de descer, virou-se e me fez um gesto de cumplicidade, às claras. A mãe,
que estava diante do fogão, viu o gesto e ficou de boca aberta, olhando a
gente. Eu me ergui da mesa, fui até o fogão e peguei o atiçador em cima da
chaminé, passando na frente da mãe. Essa, então, me olhava, olhava a Dirce,
ficava olhando, olhando, mas via-se que não iria falar. O pai berrou da adega:
-Dirce, Dirce, e ela respondeu -
-Estou indo.
Lembro que me agradou fisicamente pela última vez, enquanto
descia a escada, com aquele seu andar duro e sensual, dobrando o pescoço branco
e roliço sob a viga mestra.
Naquele instante, a porta que dava para o jardim se abriu e
entrou um homem com um saco molhado nas costas: um carroceiro.
Sem me olhar, disse:
-Moço, me dá uma mãozinha?, e eu, maquinalmente, com o ferro
na mão, o acompanhei. Ali ao lado, numa chácara, estavam construindo uma
cocheira, e a carroça carregada de pedras ficara atolada na passagem da
porteira e o carvão não conseguia sair. O carroceiro parecia fora de si, um
homem torto e feio, quase um animal. Pousei o ferro em cima de uma das
pilastras da porteira, pus duas pedras em baixo das rodas e empurrei o
carroceiro puxava o cavalo pelo cabresto. Chovia a cântaros sobre as sebes de
sabugueiro verdes e cerradas e sobre as acácias floridas que cheiravam forte; a
carroça não se movia e o carroceiro praguejava.
Pegou o chicote e bateu no cavalo com o cabo, depois,
enfurecido, agarrou o ferro que eu deixara em cima da pilastra. Dava para ver
que estava fora de si não pela carroça, mas pela vida inteira, e que odiava o
cavalo como uma pessoa.
Pensei:
-Agora vai matá-lo e quase gritei:
-Não, largue esse ferro.
Mas depois pensei que se ele matasse o cavalo, eu estava
salvo. Achava que toda minha raiva estava passando para o corpo daquele
carroceiro que parecia um possesso, e de fato, ele se atirou sobre os varais,
empurrou de novo e depois bateu na cabeça do cavalo, com o ferro. Eu, ante o
golpe, fechei os olhos, e ouvi que ele continuava batendo, e ao mesmo tempo eu
me esvaziava e quase desmaiava, e depois voltei a abrir os olhos e vi que o
cavalo tinha caído de joelhos e que ele continuava batendo, agora não para
fazê-lo levantar, mas para matá-lo. O cavalo arreou de costas, escoiceou o ar,
mas debilmente e aí largou a cabeça na lama. O carroceiro arquejante, a cara
transtornada, jogou o ferro e deu um safanão no cavalo, porém sem convicção:
sabia que o tinha matado.
Eu passei a seu lado, sem sequer tocá-lo, e pus-me a
caminhar pela estrada. Passou o bonde que ia para Roma, eu o peguei na corrida
e depois olhei para trás e vi pela última vez a tabuleta:
-Taverna dos Caçadores, proprietário Antonio Tocchi, entre a
folhagem de maio, lavada pela chuva.
Alberto Moravia