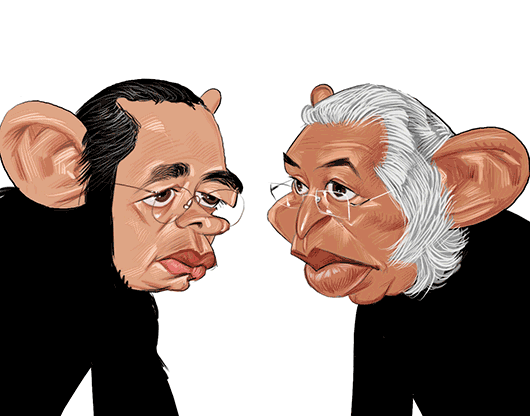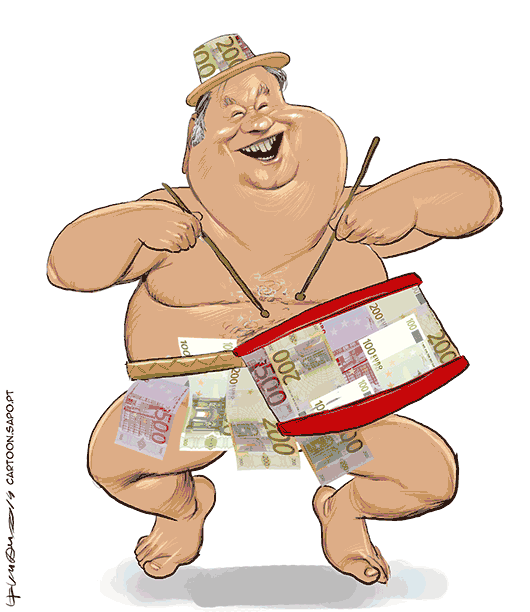«Auschwitz, Cidade Tranquila», por Primo Levi.
«Auschwitz, Cidade Tranquila»
Crónica de Primo Levi
220- «AUSCHWITZ, CIDADE TRANQUILA»
[Crónica]
Pode surpreender o fato de que no campo de concentração um
dos estados de ânimo mais frequentes fosse a curiosidade. Porém, estávamos,
além de assustados, humilhados e desesperados, curiosos: famintos de pão e
também de compreensão. O mundo à nossa volta parecia de cabeça para baixo,
portanto alguém devia tê-lo emborcado, e por isso esta pessoa mesma estar de
cabeça para baixo: um, mil, um milhão de seres anti-humanos, criados para
torcer aquilo que estava direito, para sujar o limpo. Era uma simplificação
ilícita, mas naquele tempo e naquele lugar não éramos capazes de qualquer ideia
complexa.
No que diz respeito aos senhores do mal, essa curiosidade,
que admito conservar, e que não está limitada aos chefes nazistas, continua
existindo. São lançados centenas de livros sobre a psicologia de Hitler,
Stálin, Himmler, Goebbels, e já li dezenas sem que me satisfizessem: mas é
possível que se trate aqui de uma insuficiência essencial da página
documentária; esta quase não mais possui o poder de restituir o íntimo de um
ser humano: para este fim, mais que o historiador ou o psicólogo, são úteis o
dramaturgo ou o poeta.
Entretanto, essa minha pesquisa não foi de todo infrutífera:
um destino estranho, mesmo provocativo, me colocou nas pegadas de um dos “do
outro lado”, por certo não um grande do mal, talvez nem mesmo um malvado digno
do título, porém uma amostra e uma testemunha. Uma testemunha a contragosto,
que não desejava sê-lo, mas que o foi sem querer, e talvez mesmo sem saber.
Aqueles que testemunham através de seu comportamento são os mais preciosos,
porque verídicos.
Ele era um quase-eu, um outro eu-mesmo ao contrário. Éramos
coetâneos, não diferentes em formação, talvez nem mesmo em personalidade; ele,
Mertens, jovem químico alemão e católico, e eu, jovem químico italiano e judeu.
Potencialmente dois amigos: de fato, trabalhávamos na mesma fábrica, mas eu
estava do lado de dentro do arame farpado, e ele, fora. Entretanto, estávamos
trabalhando a uma enorme distância um do outro, nos canteiros de Bruna-Werke,
em Auschwitz, e que nós dois, ele Oberingenieur e eu,
químico-escravo, tivéssemos nos encontrado é improvável, e de qualquer forma
não mais verificável. Nem mesmo depois nos vimos.
Aquilo que sei dele provém de cartas de amigos em comum: o
mundo se revela às vezes risivelmente pequeno, a ponto de consentir que dois
químicos de países diferentes possam estar ligados por uma cadeia de
conhecidos, e que estes se prestem a tecer uma rede de notícias confusas que é
uma substituta imperfeita do encontro direto, mas que, porém, é melhor que a
recíproca ignorância. Por esse meio, soube que Mertens havia lido meus livros
sobre o campo de concentração, e provavelmente também outros, porque não era um
cínico nem um insensível: tendia a negar um certo fragmento do seu passado, mas
era bastante evoluído para abster-se de mentir a si mesmo. Não se presenteava
com mentiras, mas com lacunas, espaços em branco.
A primeira notícia que tenho dele remonta ao final de 1941,
época de repensamento para todos os alemães ainda em condições de raciocinar e
de resistir à propaganda: os japoneses espalhavam-se vitoriosos por todo o
sudeste asiático, os alemães assediam Leningrado e estão às portas de Moscou,
mas a era das blitz acabou, o colapso da Rússia não ocorreu, e, ao invés disso,
haviam começado os bombardeios aéreos de cidades alemãs. Agora a guerra é
problema de todos, em todas as famílias há pelo menos um homem no fronte, e
nenhum homem no fronte está seguro da incolumidade de sua família: atrás das
portas das casas, a retórica belicista não tem mais vez.
Mertens é químico em uma fábrica metropolitana de pneus, e a
direção da empresa lhe faz uma proposta que é quase uma ordem: terá vantagens
de carreira, e talvez também políticas, se aceitar transferir-se para as
Bruna-Werke de Auschwitz. A zona é tranquila, longe do fronte e fora do raio
dos bombardeios, o trabalho é lá mesmo, o estipêndio é melhor, nenhuma
dificuldade de alojamento: muitas casas polonesas estão vazias… Mertens discute
a situação com amigos; em sua maioria, eles lhe aconselham, não se troca o
certo pelo incerto, e depois os Bruna-Werke estão em uma má região, pantanosa e
insalubre. Insalubre também historicamente, a Alta Silésia é um daqueles cantos
da Europa que têm mudado de donos muitas vezes, e que são habitados por povos
mistos e inimigos entre si.
Mas contra o nome de Auschwitz ninguém tem objeções: ainda é
um nome vazio, que não suscita ecos; uma das tantas cidades polonesas que
depois da ocupação alemã mudaram de nome. Oswiecim tornou-se Auschwitz, como se
bastasse isso para tornar alemães os poloneses que a habitam há séculos. É uma
cidade como tantas outras.
Mertens pensa assim: está noivo, e manter sua casa na
Alemanha, sob os bombardeios, é imprudente. Pede uma licença e vai ver o local.
O que viu nessa primeira vistoria não sabemos: o homem voltou, se casou, não
falou com ninguém, e partiu para Auschwitz com a esposa e os móveis para
estabelecer-se lá longe. Os amigos, exatamente aqueles que me escreveram essa
história, lhe convidaram a falar, mas ele não falou.
Não falou nem mesmo quando do seu segundo retorno à pátria,
no verão de 1943, em férias (porque também na Alemanha nazista em guerra, em
agosto andava-se em férias). E depois o cenário havia mudado. O fascismo
italiano, batido em todos os frontes, despedaçou-se, e os aliados tomam a
península; a batalha aérea contra os ingleses está perdida, e nenhum canto da
Alemanha está mais protegido dos impiedosos revides aliados; os russos não
apenas não caíram, como Stalingrado infligiu aos alemães, e a Hitler em
particular, que havia dirigido a operação com a obstinação de um louco, a mais
pungente das derrotas.
O casal Mertens é objeto de uma cautelosíssima curiosidade,
porque a este ponto, a despeito de todas as precauções, Auschwitz não é mais um
nome vazio. Boatos circulavam, imprecisos mas sinistros: deve-se deixar Dachan
e Buchenwald, antes que as coisas fiquem piores; é um daqueles lugares sobre os
quais é arriscado fazer perguntas, mas se é entre amigos íntimos, de velha
data: Mertens vem de lá, deve saber alguma coisa, e se sabe, deveria contar.
Mas, enquanto cruzam-se as conversas de todos na sala de
estar, as mulheres falando de emigrações e do mercado negro, os homens de seu
trabalho, e alguns contam a baixa-voz a última anedota antinazista, Mertens se
afasta. Na sala ao lado há um piano, ele toca e bebe, volta à sala de estar de
vez em quando apenas para um outro cálice. À meia-noite está embriagado, mas o
anfitrião não o perdeu de vista; arrasta-o até a mesa e lhe diz claro e forte:
– Depois sente-se aqui e diga logo o que diabos há com você, e porque deve
embriagar-se em vez de falar com a gente.
Mertens se sente contido entre a embriaguez, a prudência e
uma certa necessidade de confessar-se: – Auschwitz é um campo de concentração –
ele diz, – ou melhor, um grupo de campos de concentração: um deles é contíguo à
fábrica. São homens e mulheres, sujos, em trapos, não falam alemão. Fazem o
trabalho mais árduo. Nós não podíamos falar com eles. – Quem foi que proibiu? –
A direção. Assim que chegamos, nos disseram que aquelas eram pessoas perigosas,
bandidas, subversivas. – E você nunca falou com elas? – pergunta o anfitrião. –
Não, – responde Mertens servindo-se de um outro cálice. Aqui intervém a jovem
senhora Mertens: – Eu conheci uma mulher que fazia a limpeza na casa de um
dirigente. Me dizia apenas “Frau, Brot”: “senhora, pão”, mas eu… – Mertens não
devia estar tão embriagado, porque disse secamente à mulher: – Pare com isso –
e aos outros: – Não querem mudar de assunto?
Não sei muito do comportamento de Mertens depois da queda da
Alemanha. Sei que ele e sua esposa, como muitos alemães das regiões orientais,
fugiram diante dos soviéticos ao longo das intermináveis estradas da derrota,
cheias de neve, de escombros e de mortos; e que a seguir ele retomou seu
trabalho técnico, mas recusando contatos e fechando-se cada vez mais em si
mesmo.
Falou um pouco mais alguns anos depois do fim da guerra,
quando não havia mais a Gestapo para fazer-lhe medo. Para interrogar-lhe, desta
vez havia um “especialista”, um ex-prisioneiro que hoje é um famoso historiador
dos campos de concentração, Hermann Langbein. A perguntas precisas, respondeu
que havia aceitado transferir-se para Auschwitz para evitar que ao invés dele
assumisse um nazista; que não havia falado com os prisioneiros por temer
punições, mas que havia sempre procurado aliviar suas condições de trabalho;
que àquele tempo não sabia nada das câmaras de gás, porque não havia perguntado
nada a ninguém. Não se dava conta de que sua obediência era uma ajuda concreta
ao regime de Hitler? Sim, hoje sim, mas não na época: nunca lhe viera à mente.
Nunca procurei me encontrar com Mertens. Eu experimentava um
complexo recato, de que a aversão era apenas um dos componentes. Anos atrás,
lhe escrevi uma carta: dizia que se Hitler havia subido ao poder, devastado a
Europa e conduzido a Alemanha à ruína, é porque muitos bons cidadãos
comportaram-se como ele, procurando não ver e calando-se quando viam. Mertens
não me respondeu, e morreu alguns anos depois.
Primo Levi